Fonte: Brecht on Theatre. The Development of an Aesthetic.
Ed. e trad. John Willet. New York: Hill and Wang, 1992
(1a ed. 1957), pp. 163-168.
Traduzido do inglês a toque de caixa por Iná Camargo Costa.
Ao descrever o Galileu de Charles Laughton, o autor quer menos imortalizar uma dessas obras de arte fugazes que os atores criam do que homenagear os sacrifícios que um ator se dispõe a fazer para realizar um trabalho fugaz dessa ordem. Isso já não é mais usual. E não se deve atribuir a culpa pela criação de papéis estereotipados e sem vida apenas à falta de tempo para ensaios em nosso teatro inapelavelmente comercial – se o ator médio tiver mais tempo, dificilmente conseguirá resultado melhor. Nem é simplesmente porque este século produziu poucos indivíduos de destaque, caracterização rica e amplos contornos – se fosse assim, o mesmo cuidado poderia ser dedicado à criação de gente "simples". Acima de tudo parece que nós perdemos qualquer compreensão e capacidade de avaliar o que poderíamos chamar de concepção teatral: aquilo que Garrick fazia quando, como Hamlet, encontrava o fantasma de seu pai; Sorel, como Fedra, quando ficava sabendo que ia morrer; Bassermann, como Felipe, quando ouvia Posa. É uma questão de inventividade.
O espectador poderia isolar e destacar tais concepções teatrais, mas elas se combinavam para formar uma textura rica e única. Insights inusitados sobre a natureza humana, golpes de vista sobre seu modo particular de conviver foram produzidos pela engenhosa sagacidade dos atores.
É impossível descobrir como são feitas as obras de arte, mais ainda do que os sistemas filosóficos. Os que as criam se esforçam para dar a impressão de que tudo simplesmente acontece, como se fosse deliberado, como se uma imagem se formasse num simples espelho inerte. É claro que há um truque, e pelo visto a idéia é que se o truque dá certo o prazer do espectador aumenta. Mas não. O que o espectador, pelo menos o experiente, aprecia na arte é a produção da arte, o elemento ativo. Em arte, nós vemos a própria natureza como se ela fosse um artista.
O relato que segue lida com esse aspecto, com o processo de manufatura, mais que com o resultado. Interessa menos o temperamento do artista do que as noções de realidade que ele tem e comunica; menos a sua vitalidade do que as observações em que se apóiam seus papéis e deles podem ser derivadas. Isso significa deixar de lado muito daquilo que pareceu "inimitável" na realização de Laughton, e dar preferência ao que aprendemos com ela. Pois não podemos criar talento; apenas podemos lhe atribuir tarefas.
Aqui não vem ao caso examinar como os artistas do passado faziam para levar seu público ao espanto. Quando perguntaram a Laughton por que atuava, ele respondeu: "Porque as pessoas não sabem com que se parecem, e eu acho que posso mostrar a elas." Sua colaboração na escrita da peça mostrou que ele tinha todas as idéias que então começavam a se disseminar, sobre como realmente as pessoas convivem, sobre as forças motivadoras que aqui precisam ser levadas em conta. A atitude de Laughton parecia ao autor ser a de um artista realista de nosso tempo. Pois em períodos relativamente estagnados ("silenciosos"), os artistas podem achar que é possível misturar-se totalmente com seu público e se tornarem uma verdadeira "incorporação" da concepção geral, mas o nosso tempo profundamente instável força-os a tomar medidas especiais para penetrar na verdade. A nossa sociedade não admitirá de bom grado o que a faz se mover. Pode-se até dizer que ela existe exclusivamente graças ao segredo com que se reveste. O que atraiu L. em Galileu não foram apenas um ou dois pontos formais, mas sua substância mesma; ele achava que esta podia vir a ser o que ele chamava contribuição. E sua ansiedade para mostrar as coisas como elas realmente são era tão grande que, apesar de toda a sua indiferença (na verdade, timidez) por questões políticas, ele sugeria, e até pedia, que vários pontos da peça fossem refeitos para ficarem mais penetrantes, simplesmente observando que tais passagens lhe pareciam "um tanto quanto fracas", e com isso ele queria dizer que elas não faziam justiça às coisas tais quais são.
Nós costumávamos nos encontrar na mansão de L. à beira do Pacífico, porque os seus dicionários de sinônimos eram muito grandes para transportar. Ele recorria a esses tomos contínua e incansavelmente, e além disso pescava os mais variados textos literários para examinar este ou aquele gesto, ou algum modo especial de discurso: Esopo, a Bíblia, Molière, Shakespeare. Em minha casa ele fazia leituras de Shakespeare, a cuja preparação tinha se dedicado durante boa parte do dia anterior. Assim nós lemos A tempestade e Rei Lear, simplesmente para ele e mais um ou outro conhecido que aparecesse. Depois da leitura nós discutíamos rapidamente o que parecia relevante, talvez uma "ária" ou uma boa cena de abertura. Eram exercícios, e nós os fazíamos em vários sentidos, assimilando-os ao resto do nosso trabalho. Quando tinha que fazer uma leitura em algum programa de rádio, ele me pegava para martelar com os punhos sobre uma mesa os ritmos sincopados dos poemas de Whitman (que ele achava meio estranhos), e uma vez alugou um estúdio para gravar meia dúzia de atos sobre a história da Criação, na qual ele fazia um fazendeiro africano explicando aos negros como havia criado o mundo, ou um mordomo inglês atribuindo o feito a seu Amo e Senhor. Nós precisávamos daqueles estudos amplos e diversificados, porque ele não falava nada de alemão e nós tínhamos que definir o gesto de cada diálogo por minha atuação em péssimo inglês ou mesmo em alemão e depois por sua própria atuação em bom inglês, nos modos mais diversos, até que eu dissesse: é isso. Ele escrevia o resultado a mão, frase a frase. Algumas delas, na verdade inúmeras, ele ainda ruminava por dias seguidos, mudando-as continuamente. Este sistema de atuação-e-repetição tinha uma imensa vantagem, na medida em que as discussões psicológicas foram quase que inteiramente dispensadas. Mesmo os gestos mais fundamentais, como o modo de Galileu observar, seu estilo de se apresentar (showmanship), ou sua obsessão pelo prazer, foram definidos em três dimensões pela própria performance. Nossa primeira preocupação o tempo todo era com os mínimos fragmentos, com as frases, e até com as exclamações – cada uma delas tratada separadamente, cada uma precisando receber a forma mais simples e adequada, jogando muita coisa fora, escondendo muita coisa ou escancarando outras. Intervenções mais radicais na estrutura de cenas inteiras ou da própria obra tinham a finalidade de ajudar a história a se mover e levar a conclusões claras sobre a atitude das pessoas em relação ao grande físico. Mas a relutância de Laughton em fazer reparos ao aspecto psicológico permaneceu durante todo o longo período da nossa colaboração, mesmo quando um rascunho da peça já estava pronto e ele fazia várias leituras para testar reações, e ainda durante os ensaios.
A complicada circunstância em que um tradutor não sabia nada de alemão e o outro mal sabia inglês levou-nos, como se pode ver, desde o início, a usar a mímica como técnica de tradução. Nós fomos forçados a fazer o que os melhores tradutores também deveriam fazer: traduzir gestos. Pois a linguagem é teatral na medida em que fundamentalmente expressa a atitude mútua dos falantes. (As "árias", como já foi dito, se apoiaram no gesto do próprio autor, na observação de Shakespeare em suas passagens líricas e nos autores da Bíblia.) De forma muito espantosa e ocasionalmente brutal, L. mostrava sua falta de interesse pelo "livro", numa medida que o autor nem sempre podia acompanhar. Para ele, o que estávamos fazendo era apenas um texto; só interessava a performance. Não havia meio de seduzi-lo a traduzir as passagens que o autor pretendia cortar para a encenação programada mas queria manter no livro. A ocasião teatral era o que interessava, o texto só estava lá para torná-la possível; ele seria consumido na produção, iria desaparecer como pólvora em fogos de artifício. Embora a experiência teatral de Laughton tivesse acontecido numa Londres que se tornou inteiramente indiferente ao teatro, a velha Londres elisabetana ainda vivia nele, a Londres em que o teatro era uma paixão de tal ordem que era capaz de engolir obras de arte imortais com a mesma sofreguidão e audácia de quem engole muitos "textos". Essas obras que sobreviveram aos séculos na verdade não passavam de improvisações realizadas num momento de extrema importância. Imprimi-las era questão de pouco interesse, e provavelmente isso veio a acontecer para que os espectadores, isto é, os presentes ao evento real, a performance, pudessem ter uma lembrança de sua diversão. E naqueles tempos o teatro parece ter sido tão poderoso que os cortes e interpolações feitos durante os ensaios devem ter provocado poucos estragos no texto.
Nós costumávamos trabalhar na pequena biblioteca de Laughton pelas manhãs. Mas com frequência L. vinha me encontrar no jardim, correndo descalço pela grama, em mangas de camisa, para me mostrar as mudanças que fizera em seus canteiros; pois seu jardim era para ele uma constante preocupação, criando-lhe muitos problemas delicadíssimos. A graça e as belas proporções de seu mundo de flores invadiam o nosso trabalho de forma muito agradável. Pois muitas vezes o nosso trabalho abarcava tudo aquilo em que pudéssemos pôr as nossas mãos. Quando discutíamos jardinagem, era apenas um desvio de uma das cenas de Galileu; se visitássemos um museu de Nova York para ver desenhos de Leonardo que pudessem ser usados nos cenários, nós nos desviávamos para as gravuras de Hokusai. Eu percebia que L. acolheria tal material só para se defrontar com ele. Os trechos de livros, fotocópias que ele insistentemente encomendava, nunca o transformaram em bibliófilo. Ele buscava obstinadamente o exterior: não estava interessado em física, mas no comportamento do físico. Era uma questão de organizar um pouco de teatro, algo que fosse leve e superficial. À medida que o material se acumulava, L. começou a ruminar a idéia de contratar um bom desenhista para elaborar esquemas, no estilo de Caspar Neher, que expusessem a anatomia da ação. Ele dizia: "antes de divertir os outros, você mesmo tem que se divertir".
Para essa finalidade, nenhuma dificuldade era intransponível. Assim que L. ouviu falar dos esquemas de palco de Caspar Neher, que permitem aos atores se agruparem de acordo com grandes concepções artísticas e assumir atitudes ao mesmo tempo precisas e realistas, ele chamou um excelente desenhista dos Estúdios Walt Disney para fazer a mesma coisa. O trabalho não deu muito certo, mas L. o usou com os devidos cuidados.
O trabalho que ele teve com os figurinos foi imenso; não só com os seus, mas com os de todos os atores! E o tempo que ele dedicou à seleção do elenco!
Primeiro tivemos que pesquisar em obras sobre figurino e em filmes antigos para evitar o perigo de usar qualquer elemento do vestuário da moda. Suspiramos com alívio quando encontramos camisas longas num pequeno painel do século XVI. Na hora de diferenciar as classes, o velho Brueghel foi de grande utilidade. E por fim tínhamos que trabalhar o esquema das cores. Cada cena deveria ter seu tom básico: a primeira, por exemplo, um delicado tom matinal de branco, amarelo e cinza. Mas toda a sequência de cenas precisaria ter seu próprio desenvolvimento em termos de cor. Na primeira, um azul escuro e característico (egrégio) fez sua entrada com Ludovico Marsili, e este azul escuro permaneceu, em separado, na segunda cena, com a alta burguesia em seus casacos verde-cinza de feltro e couro. A ascensão social de Galileu poderia ser acompanhada por meio das cores. O prata e o cinza-perolado da quarta cena (corte) evoluiu para um noturno em marron e preto (onde Galileu é escarnecido pelos monges no Collegium Romanum), e então, na oitava, no baile do cardeal, com máscaras individuais finas e fantásticas (ladies e lordes) movimentando-se em meio às figuras dos cardeais em carmim. Era uma explosão de cores, que ainda deveria ser desencadeada por completo, o que ocorreu na cena seguinte, a do carnaval. Depois da nobreza e dos cardeais, o povo também teve seu baile de máscaras. Segue-se então o declínio para as cores escuras e sombrias. A dificuldade de tal plano deve-se ao fato de que os figurinos e seus usuários atravessam várias cenas; e tinham que estar sempre adequados e ao mesmo tempo contribuir para a construção do esquema de cores das cenas seguintes.
Nós preenchemos os papéis principalmente com jovens atores. Os discursos apresentavam alguns problemas. O teatro americano evita discursos, à exceção (e talvez por causa) das pavorosas produções de Shakespeare. Discursos simplesmente significam uma quebra na história e, do modo como geralmente são proferidos, é o que eles são. L. trabalhou com os jovens atores de maneira conscienciosa e magistral, e o autor ficou impressionado com a liberdade que ele lhes dava, com o modo como ele evitou tudo o que fosse laughtoniano e como simplesmente ensinou-lhes a estrutura. Aos atores que se deixavam facilmente influenciar por sua própria personalidade, ele lia passagens de Shakespeare, sem ensaiar seus textos, de jeito nenhum; ele não lia o texto do Galileu rigorosamente para ninguém. Sem aviso prévio, os atores eram solicitados, sem mais aquela, a provar sua adequação ao papel por meio do acréscimo de alguma coisa "impressionante" nele.
[Na sequência Brecht reproduz as Notas sobre Galileu, última parte, 1 a 8, e diz que L. estava de acordo com elas.]
A apresentação aconteceu num teatrinho de Beverly Hills, e a maior preocupação de L. era com o calor. Ele encomendou caminhões de gelo para ficarem encostados nos muros do teatro e instalou leques para ventilar, "para que a platéia pudesse pensar".
NOTA: Em conversa, mais tarde, Brecht se referiu a Galileu como uma diversão que durou dois anos. Ele acabou de reescrever a peça em dezembro de 1945; a produção foi apresentada no Coronet Theater de Los Angeles em agosto de 1947 e foi reapresentada em dezembro em Nova York. Em nenhuma das cidades teve grande sucesso comercial ou de crítica. Brecht voltou para a Europa antes da apresentação em Nova York.
O diretor foi Joseph Losey, cenários de Robert Davison, música de Eisler (que também vivia em Los Angeles na época). Além de Laughton, o elenco incluía Frances Heflin como Virgínia e Hugo Haas como Barberini. O produtor (no sentido americano) foi T. Edward Hambleton. O desenhista aqui referido é John Hubley. Essa não foi a primeira produção da peça, que já tinha sido apresentada em Zurique na primeira versão, em 1943, na qual Leonard Steckel fez Galileu.



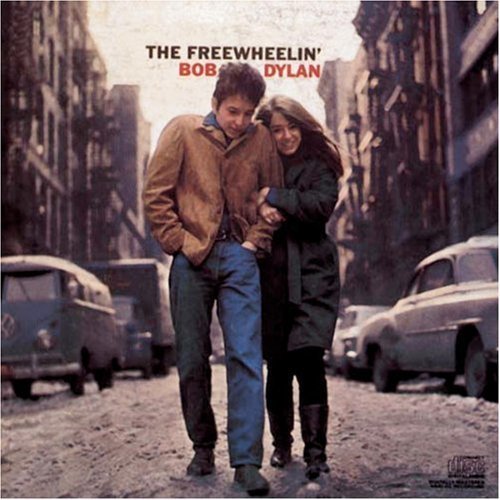
Nenhum comentário:
Postar um comentário